A minha ideia de escrever sobre livros na internet surgiu no início dos anos 2000, mais como um auxílio à minha própria memória. Como leio muito, tinha receio de esquecer se já havia lido ou não determinado livro. Com exceção de um curto período, sempre li o que quis, sem compromisso com prazos, lançamentos ou qualquer outra obrigação.
Além desse desejo, sempre achei que, ao publicar meus comentários, poderia ajudar outras pessoas a descobrir uma obra. Por isso, me sinto um pouco frustrado quando leio algo decepcionante, mas, por uma espécie de dever “profissional”, sinto a necessidade de comentar todos os livros que leio — exceto os de engenharia.O texto de hoje, aliás, fala sobre três livros que foram bastante decepcionantes, mas, mesmo assim, vale a pena comentá-los, né?
(Imagem que acompanha o texto obtida com o Google Gemini.)
"A primeira coisa que a parteira notou ao ajudar Michael K a sair de dentro da mãe para dentro do mundo foi que tinha lábio leporino. O lábio enrolado como pé de caramujo, a narina esquerda fendida."Poucos parágrafos adiante o livro continua com:
Por causa da deformação, e porque não era rápido de cabeça, Michael foi tirado da escola depois de uma breve tentativa, e entregue à proteção do Huis Norenius, em Faure, onde, às custas do Estado, passou o resto da infância na companhia de outras crianças infelizes com afecções diversas, (...)Além do lábio leporino e de "não ser rápido de cabeça", Michael K vive no meio de uma guerra civil na África do Sul, é pobre e tem que cuidar da mãe, que sofre de hidropsia e não consegue andar. Quando a guerra chega no bairro onde Michael K mora, e também para cumprir um antigo desejo de sua mãe, ele cria uma condução em cima de um carrinho de mão e tenta levá-la para a sua cidade natal - mas ela morre logo no início da viagem. Depois começam a acontecer uma série de acontecimentos na sua vida: ele é preso algumas vezes, é assaltado e fica sem as economias da mãe que carregava consigo, tenta morar isolado numa fazenda, é constantemente ameaçado por combatentes de algum dos lados da guerra, encontra pessoas esquisitas. Com o nome do personagem remetendo a vários outros de Kafka e vivendo sempre em condições dificílimas, pode-se imaginar que "Vida e época de Michael K" seja apenas uma espécie de denúncia contra os absurdos da guerra e da sociedade constituída - por mais que, em certo sentido, o romance seja isso mesmo. Mas Coetzee não seria o gigante da literatura que é se apenas tentasse emular o também gigante Kafka. A verdade é que, frequentemente, é o próprio Michael quem arranja problemas para si mesmo. Dadas as trágicas circunstâncias da guerra civil em que vive, ele é muito mais bem tratado - pela polícia, pelos combatentes, por outras pessoas e pela própria mãe - do que se esperaria de um personagem chamado "Michael K". Já estou com dois livros de Coetzee aqui comigo, esperando a leitura. Nunca me canso de suas histórias fortes e profundas.

“Kim”, de Rudyard Kipling (Companhia Editora Nacional, tradução de Monteiro Lobato, 299 páginas, publicado originalmente em 1901): considerada a obra-prima do inglês Kipling, Nobel de Literatura de 1907, “Kim” conta a história da personagem-título, um garoto órfão morando na Índia, filho de um soldado inglês e de uma irlandesa que morreram na miséria. De esperteza e inteligência incomuns, o garoto tem contato com um enorme número de pessoas, passando por inúmeras aventuras. O estilo de Kipling é um pouco truncado – a história passa de um acontecimento a outro de forma frequentemente brusca –, mas “Kim”, pela descrição vívida que faz da vida na Índia, merece toda a fama que tem.
“Kurt Cobain and Nirvana - Updated Edition: The Complete Illustrated History”, diversos autores (Voyageur Press, 208 páginas, publicado originalmente em 2013): ricamente e ilustrado, o livro se concentra mais na história da banda de Kurt Cobain do que no seu vocalista e guitarrista, e tem detalhes muito interessantes – como textos em separado sobre cada álbum do Nirvana e pequenos comentários sobre cada um dos cinquenta discos preferidos do compositor de “In Bloom”. Um prato cheio para fãs e um livro tão bonito que pode perfeitamente servir de enfeite na sala.
“Essa gente”, de Chico Buarque (Companhia das Letras, 200 páginas, publicado originalmente em 2009): Manuel Duarte é um escritor que fez muito sucesso em seu livro de estreia, mas que está com a carreira estagnada e, pior que isso, numa crise criativa. Com idas e vindas, “Essa gente” tem trechos muito engraçados e outros de uma amargura sutil – principalmente quando fala da virada à direita que o país deu nos últimos anos. Por sorte, como grande escritor que é, em “Essa gente” Chico Buarque fugiu totalmente da literatura puramente política e escreveu (mais) uma pequena obra-prima.
“A vida escolar de Jesus”, de J.M.Coetzee (Companhia das Letras, tradução de José Rubens Siqueira, 227 páginas, publicado originalmente em 2013): já escrevi aqui sobre “A Infância de Jesus”, primeira parte deste livro: “não dá para entender o que o grande J.M. Coetzee (Prêmio Nobel de 2003) quis dizer com esta história (...). David tem alguma coisa a ver com Jesus Cristo? O que exatamente ele tentou mostrar com a ilha distópica do romance, onde as pessoas se esquecem do seu passado? Por que David e Inés são tão irritantes?” Continuo sem entender o que J.M.Coetzee quer com esta história – nesta continuação, David vai para uma aula de dança ao invés de estudar como as outras crianças -, mas, pelo menos, quando comecei “A vida escolar de Jesus” eu já estava esperando ler um livro muito estranho.
“Cat person e outras histórias”, de Kristen Roupenian (Companhia das Letras, tradução de Ana Guadalupe, 251 páginas, publicado originalmente em 2019): publicado na revista New Yorker em 2017, o conto que dá nome a esta coletânea – que conta a história de uma moça que faz sexo sem vontade com um homem mais velho com quem estava flertando - fez furor no mundo inteiro (procure por “Cat person” na internet para saber do que estou falando). Os doze contos do livro são extremamente bem escritos e prendem a atenção do leitor – mas a autora frequentemente exagera nas tintas sombrias.
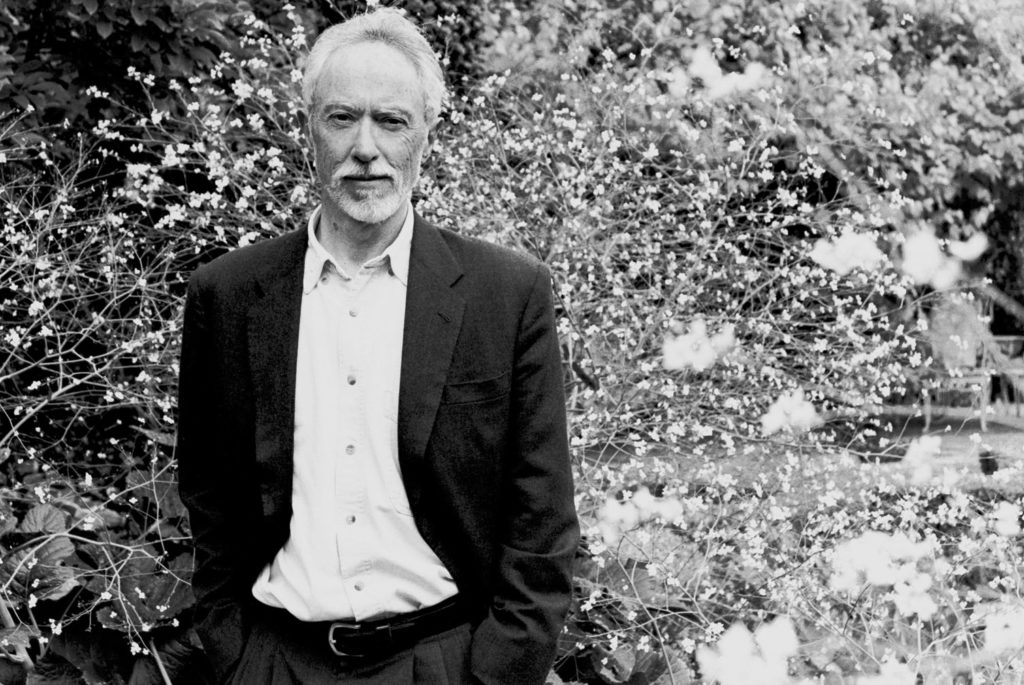
J.M.Coetzee é um escritor é sul-africano de origem afrincânder, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 2003. A pronúncia correta é algo parecido com côtzêe.
“Verão” (Companhia das Letras, 276 páginas), um dos melhores livros que já li, é a terceira obra de sua trilogia autobiográfica e tem uma estrutura pra lá de original: nela, o escritor “John Coetzee” já está morto, e um jornalista entrevista algumas pessoas próximas a ele – quatro mulheres e um homem – para conseguir material para uma biografia do escritor. “Verão” é composto basicamente por essas entrevistas.
Os entrevistados têm opiniões nada lisonjeiras sobre Coetzee: ele é chamado por termos como “mosca morta”, “distante”, “esquisito”, com “ideias estranhas”. A tentação de me comparar com ele é meio grande, já que alguns desses qualificativos pouco agradáveis podem se aplicar perfeitamente a mim – quem me conhece, ou me conhece pouco, sabe disso. Mais do que isso, Coetzee é um escritor com formação em exatas – ele é formado em matemática, enquanto eu sou engenheiro – e, também como eu, entende de programação de computadores.
De todo modo, este jeito distante de "John Coetzee" esconde um grande observador da alma humana. Uma das personagens de “Verão”, a brasileira Adriana, ficou com um ódio profundo de Coetzee por ele ter se apaixonado por ela sem que ela quisesse nada com ele. Mesmo assim ela serve de modelo - e modelo altamente positivo ainda por cima! - de uma personagem num livro que ele escreveria mais tarde. Para Coetzee, a observação aguda e imparcial foi muito mais importante do que a raiva que a brasileira Adriana sentia por ele.
Comentários Recentes